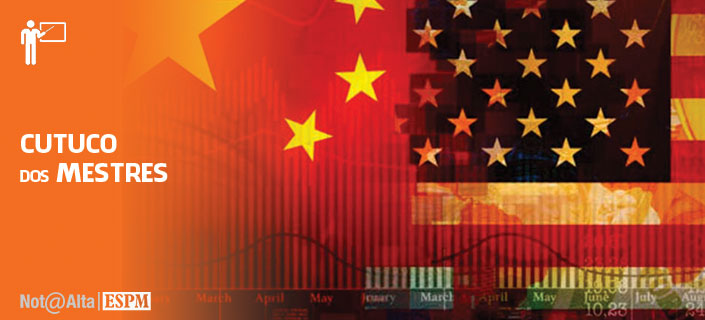Ao longo da História, a emergência de uma nova potência tendeu a desestabilizar a balança de poder e a levar à confrontação – quando não à guerra – entre a potência hegemônica e a emergente. Esta foi a lição que nos deixou o relato de Tucídides sobre as guerras do Peloponeso, entre Atenas e Esparta.
O episódio tem sido lembrado em face da emergência da China e dos deslocamentos tectônicos que provocou na cena mundial. Henry Kissinger, em vários escritos, defendeu a tese de que a ordem internacional em gestação será plasmada pelo eixo Washington-Beijing, quer na direção da cooperação, quer na do conflito. Uma confrontação, contudo, seria impensável, pois levaria a uma tragédia sem precedentes. Em entrevista recente ao jornal Financial Times, o grande mestre da política internacional, hoje aos 98 anos, retomou o tema, num tom mais pessimista. A confrontação entre China e Estados Unidos, diz Kissinger, seria hoje mais perigosa do que na guerra fria entre Washington e Moscou. A inteligência artificial tem uma capacidade de destruição superior à da arma nuclear. Além disso, não permite uma informação mais acurada da relação de forças. Gera a incerteza, que alimenta a desconfiança e conduz a uma escalada para o confronto.
Barack Obama apostou no engajamento com a China. Donald Trump optou pelas sanções e pela confrontação. Mike Pompeo, seu secretário de Estado, fomentou uma nova guerra fria. Por vezes, ela parece estar efetivamente de volta, à luz das tensões em Hong Kong, em Taiwan ou das alianças militares, como a Aukus.
Neste contexto, a Declaração Conjunta Estados Unidos-China de Glasgow sobre o Aprimoramento da Ação Climática na década de 2020, assinada por ocasião da COP-26, deu um sinal promissor de que, a despeito das ameaças e fricções, a porta para a cooperação Washington-Beijing permanece aberta. O representante americano, John Kerry, chegou a comparar esta declaração ao acordo de 1986 entre Reagan e Gorbachev, sobre armas nucleares.
O zigue-zague e os altos e baixos na relação entre as duas superpotências corroboram a avaliação feita por Emmanuel Macron de que o cenário internacional não pode ser dominado por um só canal de comunicação ou uma única agenda. Existem, ao ver do presidente francês, como que duas esferas principais no intercâmbio mundial. A primeira seria o espaço da soberania, alvo da competição estratégica entre as duas potências hegemônicas. A segunda, a esfera dos bens comuns da humanidade, como o clima, os direitos humanos, saúde, pobreza, combate ao terrorismo e ao crime cibernético e outros temas de caráter universal, abertos à cooperação multilateral.
As ideias de Macron parecem refletir com mais propriedade os contornos ainda imprecisos do relacionamento entre Washington e Beijing, que vai aos poucos tecendo um modus vivendi entre as duas superpotências, que não virá necessariamente de conferências diplomáticas, mas da alternância entre momentos de convergência e de conflito, que vão demarcando o terreno em função de interesses específicos de cada um, em cada caso.
O debate em curso, para decifrar as regras do novo jogo de poder, não reflete apenas um interesse acadêmico ou jornalístico, mas tem implicações concretas para a formulação de uma visão de mundo e a estratégia dos atores internacionais. Se a confrontação prevalecer, poderá configurar uma nova guerra fria e os demais países terão reduzida a sua autonomia. Este cenário, no entanto, parece pouco provável, dadas a densidade e a diversidade do intercâmbio entre as duas potências. Se, ao contrário, os espaços de cooperação entre os grandes forem preservados, haverá mais ampla participação de todos no processo decisório sobre os temas de interesse comum e, portanto, mais oportunidades para a diplomacia e o multilateralismo.
A declaração sino-americana ressaltou a determinação dos dois países em trabalharem juntos para elevar a ambição nas metas para reduzir as emissões de gases de efeito estufa. Na mesma linha, a COP-26 reafirmou seu compromisso irreversível com o clima, o que trará oportunidade única para um país como o Brasil, que reúne as credenciais para ter um papel relevante neste processo.
Para tanto, não basta mobilizar a sociedade, o que já está ocorrendo, como ficou evidenciado em Glasgow. Nem o aparelhamento dos órgãos de gestão ambiental no combate ao desmatamento, o que já foi prometido, mas até agora não foi cumprido. Torna-se necessária uma visão do clima como fundamento de uma economia de baixo carbono, capaz de balizar tanto o projeto de desenvolvimento quanto a inserção internacional do País.
É hora de o Brasil incluir o clima entre os pilares da política externa, por expressar um compromisso genuíno da sociedade, por trazer benefícios concretos para a economia e representar o caminho mais rápido para recuperar a liderança que o Brasil conquistou a partir da Rio-92, mas vem perdendo progressivamente.